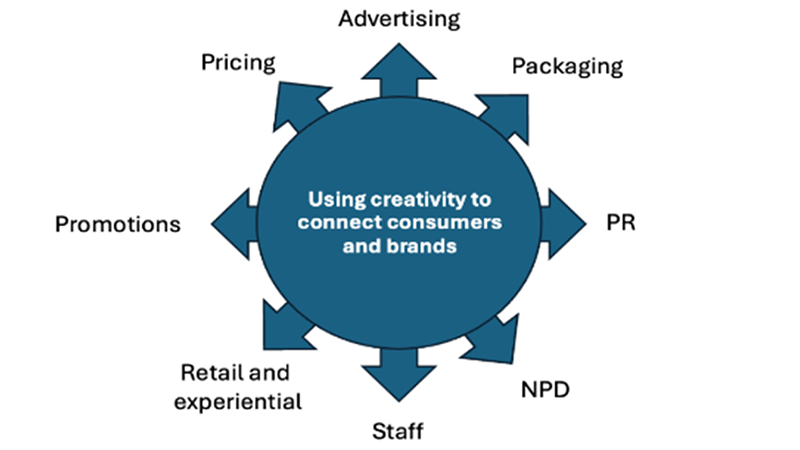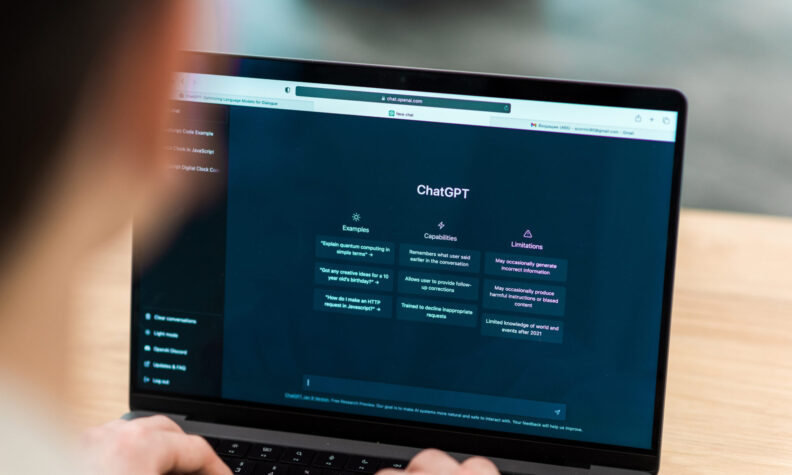Autor de ‘Rabo de Peixe’, série de televisão portuguesa mais vista em Portugal e um dos êxitos comerciais da Netflix em 2023, que estreia a segunda temporada em 2025, Augusto Fraga alia a ficção à publicidade, tendo, nos últimos 20 anos, realizado anúncios em cerca de 50 países.
Em entrevista ao M&P, o realizador e guionista, um dos sócios da produtora audiovisual Krypton e um dos cofundadores do Spectacular Studio, estúdio de escrita e desenvolvimento de conteúdos audiovisuais, fala do impulso que as plataformas de ‘streaming’ estão a dar à produção nacional, esclarece a relação que tem com os anúncios publicitários, revela o que os anunciantes lhe pedem para terem campanhas bem-sucedidas, aborda a utilização da inteligência artificial (IA) nos anúncios e desvenda os projetos que tem em mãos, na ficção e na publicidade.
Neste início de 2025, além da estreia da nova temporada da série ‘Rabo de Peixe’, que outros projetos tem em mãos, na área da publicidade?
Tenho estado a trabalhar fora de Portugal, em Barcelona, a gravar a nova campanha internacional da Coca-Cola. Depois, vou estar disponível para trabalhar com a produtora Krypton, da qual sou sócio, além de realizador, em projetos nacionais e também em projetos internacionais que são filmados cá, o que é bom para poder estar em casa. Ainda não posso revelar nada de muito concreto a esta distância, mas estes são, para já, os planos que tenho.
E em termos de ficção?
Além de aguardar a estreia da segunda temporada da série ‘Rabo de Peixe’, estou a preparar uma longa-metragem, que é o que quero fazer. Não sei se será em Portugal ou no estrangeiro, há várias possibilidades que estão em aberto.
O investimento internacional das plataformas de ‘streaming’ veio dar um novo fôlego à produção nacional. Como é que perspetiva a evolução?
Ainda estamos a dar os primeiros passos enquanto país produtor de entretenimento exportável. Portugal tem grandes exemplos de filmes premiados em festivais, sobretudo na Europa, mas isso não se tem refletido na aproximação ao público, nem sequer em Portugal. O cinema português tem tido uma história bastante interessante, em termos de reconhecimento nos festivais de cinema, mas o público português que o acompanha é muito pouco.
A série ‘Rabo de Peixe’ trouxe público. A união das duas coisas é o ideal. Se me perguntar como é que gostava que fosse o futuro, respondo que seria essa união, entre a arte e o público. Não sei se será assim, mas é assim que gostava que fosse.
Assim como?
Gostava que se investisse num cinema variado, com géneros diversificados, pensando sempre no público como o objetivo último dessa mensagem, desse produto.
Internacionalizar para um público abrangente

Estando na fase inicial de um processo de evolução, Portugal está preparado para dar resposta às necessidades crescentes? Há produtores, realizadores, atores, guionistas e meios técnicos suficientes?
Julgo que estamos preparadíssimos para dar resposta. Há uma sede enorme dos criadores, dos guionistas, dos realizadores e dos atores de mostrar o seu trabalho para além dos filmes que viajam nos circuitos dos festivais internacionais. Há uma grande vontade de internacionalizar o trabalho para um público mais abrangente.
Há talento suficiente e existem os meios técnicos necessários. Faltavam-nos as oportunidades, que foram entretanto abertas pelos canais de ‘streaming’ que estão a investir em Portugal, com outro tipo de narrativas e com histórias contadas de outras formas.
Essas áreas que referiu não estarão todas no mesmo estágio de desenvolvimento. Qual é que pensa que poderá ter um maior défice?
Pela minha experiência, diria que é, talvez, na produção que tem de haver um investimento maior, no sentido em que tem de haver mais rigor por parte dos produtores na forma como tratam estes produtos, de forma a que consigam ter um ‘craft’ ao nível do que se faz fora de Portugal. Técnicos, realizadores e escritores, temos. Falta a exigência, no sentido de subir o padrão, de elevar o nível. Isso passa muito pelos produtores. Daí o convite às produtoras portuguesas, que são habitualmente produtoras de publicidade, para entrar na área da ficção.
Pode dar exemplos?
Estou a pensar em dois casos que são claros, como o da Ready to Shoot, que produziu o ‘Heart of Stone’ para a Netflix, bem como a produtora do Nick Page e do Nick Roycroft, a Page International, que também produziu uma série para a Netflix. A Sagesse Productions, da Sofia Noronha, que produziu ‘House of the Dragon’ e outros projetos, é outro dos exemplos que me ocorre. São pessoas da publicidade que estão a prestar serviços a produções internacionais que vêm filmar a Portugal.
Porquê é que essas produções não se servem das produtoras de cinema portuguesas tradicionais?
Essa é uma questão que as produtoras tradicionais portuguesas têm de se colocar. É interessante ver as grandes produções internacionais a associarem-se, em Portugal, a produtores que trabalham habitualmente em publicidade e que, de um modo geral, não tinham qualquer experiência na produção de ficção.
Apesar da evolução, há realizadores e produtores, como o Leonel Vieira, que se continuam a queixar da qualidade dos guiões produzidos em Portugal. Também se sente isso?
Escrever um guião é muito difícil, dá muito trabalho. É preciso valorizar os guionistas e fazê-lo é conceder-lhes o tempo que precisam para desenvolverem as histórias. Quando contrato um guionista, não posso esperar que o guião que me entrega venha magicamente incrível, sem que lhe dê condições para trabalhar e tempo para investigar e para reescrever. Não acho, por isso, que a culpa seja dos guionistas. Parece-me mais falta de investimento na escrita, em termos de tempo e investigação dos guionistas.
Para o guião de ‘Rabo de Peixe’, recorreu à criação de salas de escritores, o que não é muito comum em Portugal. Parte do êxito deve-se a essa tomada de decisão?
Nessas salas de escritores, juntam-se vários guionistas a trabalhar para o mesmo fim. Em Portugal, nunca tinha acontecido ou, a acontecer, acontece muito raramente. Parte do sucesso dos nossos guiões advém daí, porque havia muita gente a trabalhar nessa sala de escritores, com tempo para desenvolver as ideias.
O recurso à sala de escritores aconteceu porque a série tinha investimento estrangeiro ou já tinha essa intenção desde o início?
No caso de ‘Rabo de Peixe’, foi uma imposição minha. Queria mesmo ter tempo e um bom grupo de escritores a trabalhar no projeto, porque é assim que se fazem todas as séries lá fora. Por isso, tínhamos de replicar o processo que sabemos que funciona no estrangeiro.
Tivemos, obviamente, o apoio da Netflix, que não só aceitou a proposta como os encargos económicos que essa opção implicava. Houve mais apoio económico e, sobretudo, a vontade de não ter apenas um autor a escrever a série. O facto de haver um grupo de escritores a trabalhar em conjunto melhora a história.
Realizadores de publicidade a crescer no cinema

Além do novo mercado que o ‘streaming’ veio criar, os realizadores de cinema têm vindo a diversificar a atividade com incursões na publicidade, lá fora e em Portugal. Como é que vê esta evolução?
Mais do que os realizadores de cinema a fazer essa incursão na publicidade, são os realizadores de publicidade que estão a entrar no cinema. O panorama português é muito mais tímido do que o internacional. Além de mim, há o Tiago Guedes, o Marco Martins e o João Nuno Pinto, realizadores que começaram as carreiras na publicidade e que agora são realizadores de televisão e cinema em Portugal. Lá fora, há imensos, como o Jonathan Glazer, o Ang Lee, o Ridley Scott ou o Tony Scott. Todos eles começaram na publicidade e passaram para o audiovisual.
Porque é que isso acontece?
Apesar de serem duas formas de comunicar muito diferentes, os realizadores de séries e de filmes trazem coisas boas para a publicidade. O David Fincher, que é um dos melhores realizadores da atualidade, começou na publicidade e passou, depois, para o cinema. Além de ritmo, trouxe uma visão técnica que veio mudar as coisas. Ao fazer-se cinema, traz-se para a publicidade uma outra profundidade das personagens, dando mais interesse à narrativa. Parece-me que são vasos comunicantes, que trazem coisas boas mutuamente.
Sendo as linguagens e as formas de comunicar diferentes, o que é mais desafiante para um realizador de ficção quando pega num projeto publicitário?
Talvez o contar uma história em tão pouco tempo. Aceitar que a história tem de ser contada em 20 ou 30 segundos e que cada plano tem de ser milimetricamente medido é o maior desafio.
E o mais fácil?
O mais fácil é trabalhar com os atores, porque essa é a grande mais-valia dos realizadores que trabalham em ficção habitualmente. Estão muito acostumados a tirar o melhor dos atores e dos personagens.
Em publicidade, o que é que tem feito ultimamente?
Além do filme publicitário da nova campanha internacional da Coca-Cola, que tenho estado a filmar em Barcelona, tenho tido a sorte de, em Portugal, fazer os anúncios de Natal da Vodafone nos últimos sete anos. São campanhas importantes para mim e para a marca e, culturalmente, também são importantes para o país, pelos temas sociais que abordam.
Também tenho feito coisas no estrangeiro. Estive nos Estados Unidos no fim de dezembro, a filmar um anúncio de Mercedes-Benz, que vai poder ser visto nos próximos meses, nos Estados Unidos. É uma campanha só para o mercado norte-americano. Em publicidade, tenho trabalhado sobretudo fora de Portugal.
Encontrar a verdade nas histórias
No caso dos anúncios de Natal da Vodafone, o que é que procura fazer de diferente a cada ano para não os tornar repetitivos?
Há dois desafios importantes. Um é encontrar a verdade nas histórias que se contam, porque, no fundo, sabemos que se estão a recorrer a truques emocionais para aproximar o público da marca. Esse desafio começa na marca, passa para a agência e, depois, cabe-me a mim tornar a narrativa autêntica, para que não seja uma coisa produzida para um efeito e tenha uma âncora na realidade. Esse é o grande desafio, sempre.
E o outro desafio?
É fazer com que cada anúncio seja melhor do que o do ano anterior. Às vezes, é difícil, depende muito da história. Se virmos a evolução dos anúncios de Natal da Vodafone, que têm sido premiados todos os anos, ela é grande. As campanhas têm recebido prémios não só de execução, mas também de eficácia, pela ligação ao lado emocional e verdadeiro.
Tendo em conta essa procura de autenticidade e verdade, como é que vê o recurso à IA para a criação integral de anúncios?
A utilização da IA é inevitável. Temos que preparar-nos para essa realidade e aprender a usar essas ferramentas a nosso favor. No caso dos jornalistas, podem recorrer a elas para transcrever entrevistas, um trabalho que é mecânico, mostrando depois toda a sua arte na edição. No meu caso, é útil para a preparação de ‘storyboards’ e de documentos que são ferramentas de trabalho.
Apesar de inevitável como ferramenta, não me parece que a IA venha substituir o lado humano das sensações nem a relação direta que se cria entre o realizador e os atores e, depois, com o espectador. É como ouvir a música do Hans Zimmer tocada por um sintetizador. Até pode ser o melhor sintetizador do mundo e conseguir reproduzir as notas na perfeição, mas é sempre diferente ouvi-la em vivo, tocada por uma orquestra, nem que seja pelo erro e pela imperfeição do ser humano, que é o que nos torna mais belos.
A IA deve funcionar só como um apoio, nunca deve ser usada em substituição da arte humana?
Não me parece que tenha alguma lógica fazer uma campanha 100% com recurso a IA, porque isso seria tratar a comunicação humana de um ponto de vista exclusivamente racional, ignorando o ponto de vista emocional. O emocional da comunicação é, provavelmente, 90% do que nos une, seja numa conversa ou na publicidade.
Já trabalhou em diferentes mercados, com diferentes visões e formas de trabalhar e em distintas fases de evolução. O que é que absorveu dessas experiências?
Há um ponto comum na comunicação de marcas, sobretudo quando comparamos culturas tão diferentes, que é o emocional. Está sempre lá e sobrepõe-se sempre aos aspetos técnicos e aos racionais. O que realmente toca as pessoas são as histórias que são universais, que envolvem pais e filhos, casais, avós e netos, irmãos que não se veem há algum tempo ou um grupo de amigos que se esforça para conseguir alguma coisa.
Essas narrativas são universais e tanto funcionam na China como nos Estados Unidos ou em Portugal. Essas histórias são as que se prolongam por mais tempo e são comuns em todos os mercados. Gosto muito de trabalhar essa parte das narrativas. É, talvez por isso, que tenho tido a possibilidade de trabalhar em tantos mercados.
Enquanto português, o que é que leva para esses projetos?
Levo exatamente isso, a visão de que o peso da narrativa tem de estar na autenticidade. Tem de ser uma coisa real, que nos leve a acreditar nela. Para isso, não pode ser excessivamente produzida. Além disso, levo a flexibilidade, que é uma parte importante do ser português e que é muito necessária na nossa profissão.
Já que saí de casa, quando trabalho no estrangeiro, procuro fazer o projeto o mais incrível possível, sentindo sempre que, como vimos de um país onde temos menos oportunidades, temos de agarrar as que surgem e procurar elevá-las o mais possível, para merecermos a responsabilidade que nos está a ser dada.
Qual é a relação que tem com a publicidade no quotidiano? É consumidor regular ou tende a achá-la intrusiva?
Tendo a achar a publicidade intrusiva e, por norma, não consumo publicidade. Pelo menos de forma consciente. Procuro marcas e anúncios que me possam interessar, mas raramente vejo aquela publicidade ‘pré-roll’ que nos querem obrigar a ver. Clico sempre no ‘skip ad’. Faço-o pela qualidade do que me está a ser entregue e porque, na maioria das vezes, não é aquilo que me apetece ver naquele momento.

Publicidade em recessão de ideias
Como é que analisa o estado da criatividade em Portugal?
Estamos num momento muito conservador, não só em termos de criatividade como também em termos de ideias. Assiste-se a uma fase de recessão das ideias. As agências criativas sofreram, nos últimos anos, um processo de aglomeração. Há menos agências e, como tal, têm menos pessoas a trabalhar, estando todas, muitas vezes, concentradas nos mesmos edifícios. Além do mercado estar mais reduzido, também me parece haver menos dinheiro disponível para os consumidores, pelo que as marcas também têm mais medo de arriscar.
A ditadura do politicamente correto condiciona a criatividade?
Condiciona, tal como a necessidade de medir as campanhas para garantir que vão gerar resultados. Há inúmeros casos, na publicidade e no cinema, de projetos que não indiciavam que pudessem vir a ter êxito, mas houve alguém que acreditou neles e arriscou e vieram a ser bem-sucedidos. Quando o nosso instinto nos diz que sim, vale a pena tentar. Quando isso acontece, habitualmente com marcas com menor presença, que têm menos medo de arriscar, veem-se coisas incríveis e brilhantes.
Mas as maiores marcas estão claramente num momento em que lhes custa mais arriscar. Talvez por causa das redes sociais, por temerem ser criticadas. A cultura do cancelamento e a cultura ‘woke’ também contribuem para o medo, uma vez que qualquer vírgula fora do sítio pode ser o fim de uma marca. Há esse receio.
O que é que afeta mais a criatividade, o politicamente correto ou a redução dos orçamentos?
As duas coisas. A redução dos orçamentos afeta sobretudo o tempo e a dedicação que os criativos têm para trabalhar as histórias. A redução dos orçamentos de produção também tem impacto. Fazer uma coisa que já está mais do que provado que funciona resulta, mas empobrece a execução e o conceito.
Os anunciantes pedem cada vez mais fórmulas que lhes dão garantias, por medo de arriscar?
O que os anunciantes pedem são anúncios de que toda a gente fale, que mudem o mercado, que ponham a marca no ‘top of mind’ dos consumidores. É isso que me estão sempre a pedir. O problema é que estão muito limitados pelos condicionantes do mercado, pelos condicionantes sociais em que vivemos.
Há também a questão das métricas e a necessidade de medir tudo. Essas análises quantitativas também condicionam a criatividade?
Penso que sim. Mas é fundamental que a afetem. Dando o exemplo do cinema português, que é maioritariamente apoiado pelo Estado, essa análise de resultados, em termos do número de espectadores que veem os filmes, é totalmente irrelevante. Na publicidade, é fundamental a medição de resultados, até para sabermos para onde é que estamos a ir. Por outro lado, há coisas que não se podem medir e devia haver espaço para se arriscar mais e até para cometer erros. Com os erros, podem também advir grandes surpresas.
Há empresas, sobretudo lá fora, que estão a fazer medições emocionais, como a portuguesa Mediaprobe, que tem trabalhado nos Estados Unidos. A solução passa por aí?
Sem dúvida. Não sei como é que a fazem, mas sendo possível fazer essa avaliação emocional, é muito interessante e útil para a análise e para a antecipação de resultados, e para preparar o caminho para os atingir. Acho essa ideia muito interessante.
Já recebeu vários prémios como realizador de ficção e de publicidade. Qual deles é que o marcou mais?
O prémio que mais gostei de ganhar, não sei porquê, foi, talvez, o prémio Sophia, pela série ‘Rabo de Peixe’, em 2024.
Porquê?
Porque é dado pela Academia Portuguesa de Cinema, que, habitualmente, não considera as séries, muito menos as de ação. Ter-nos entregue esse prémio é o reconhecimento que não existe só o cinema tradicional português. É também um sinal de que a academia está num processo de renovação, reconhecendo que há, de facto, uma consistência no trabalho que desenvolvemos.
Prémios e festivais não são demasiados
Há algum prémio que ambicione?
Um prémio em si não. Mas gostava de fazer parte de um grupo de portugueses que consegue exportar cinema para fora de Portugal. Esse seria o grande prémio, ter filmes feitos por portugueses a estrear nas salas de cinema de todo o mundo ou bem colocados nos tops e nas tabelas mundiais das principais cadeias de ‘streaming’.
Quando trabalha, fá-lo a pensar em potenciais prémios ou encara-os como uma consequência?
Honestamente, os prémios só são importantes para quem os ganha. Quando não ganhamos, tornam-se completamente irrelevantes.
Em Portugal, há demasiados prémios e festivais, pelo menos na área da criatividade?
Na área da publicidade, há festivais e festivais. Uns têm maior credibilidade do que outros. Alguns são importantes, como os Prémios Eficácia e o Festival CCP. Esses são os que considero relevantes, pelo que não me parecem demasiados.
É sobretudo associado a ‘Rabo de Peixe’. Sente a pressão de apresentar rapidamente outros trabalhos, que o afastem da série e que mostram que é capaz de se superar?
Sinto essa necessidade, para provar ao público e também a mim próprio que não tive sorte e que não sou como as bandas que fazem uma música boa e que, depois, desaparecem. Estou a trabalhar para mostrar o meu valor e para tentar fazer uma coisa que seja realmente boa e de que realmente goste. ‘Rabo de Peixe’ também foi um êxito porque era uma coisa que queria fazer. Vou procurar fazer, a seguir, outras coisas nas quais acredito, talvez seja essa a fórmula para continuar a ter êxito.
Em termos de ficção, qual é a ambição maior?
Seria um filme em Hollywood. A minha ambição maior são os Estados Unidos. Se trabalhasse na indústria aeroespacial, imagino que o meu objetivo fosse trabalhar na NASA ou na Agência Espacial Europeia. Neste caso, é a mesma coisa. Há muitos anos que o ‘core’ do cinema de que gosto está mais nos Estados Unidos do que na Europa. Apesar de adorar muitos criadores de cinema europeu, interessam-me mais os Estados Unidos e gostava muito de conseguir entrar no mercado norte-americano como realizador e criador de ficção.
O que gostava de fazer lá?
O projeto perfeito seria ter criado a série ‘Ozark’. Como os Estados Unidos também são um mercado muito forte em termos de plataformas de ‘streaming’, o interesse em ir para lá também advém daí. Seria a junção ideal, até porque, quando os americanos e os europeus se juntam, o resultado final é melhor do que o cinema americano puro.
Foi por isso que o [realizador Alfred] Hitchcock foi para os Estados Unidos e que há muitos realizadores mexicanos a trabalhar lá. Alia-se a criação e a arte a uma capacidade de produção incrível, que não temos na Europa. São muitos os bons filmes idealizados por criadores e pensadores europeus, sul-americanos ou sul-coreanos que têm uma força de produção que só os norte-americanos é que conseguem materializar.

Augusto Fraga recorreu a uma sala de escritores para o desenvolvimento dos guiões da série ‘Rabo de Peixe’
“Espero que ‘Rabo de Peixe’ não tenha uma quarta temporada”
–––A série ‘Rabo de Peixe’ vai ter mais duas temporadas. O que é que muda em termos da realização e da construção da narrativa, face à primeira? São claramente mais maduras, mais cinematográficas em termos de realização. Na primeira temporada, havia uma vontade de experimentarmos tudo, para encontrarmos a linguagem própria da série e procurámo-la também pelo erro. Na segunda e na terceira, já sabíamos o que queríamos e aquilo de que, enquanto criadores, gostámos na primeira temporada. As personagens também já estavam numa fase de evolução mais avançada. Como já as conhecíamos muito melhor, pudemos aprofundá-las mais. Tal como acontece entre a primeira temporada e a segunda, também existem diferenças significativas entre a segunda e a terceira? A segunda temporada é claramente de profundidade e de maturidade, o que contrasta com o contexto de ‘Rabo de Peixe’ e com o do consumo de drogas. Já a terceira temporada é completamente diferente, muito mesmo, mas vão ter de a ver para o perceber. Pode haver uma quarta temporada? Espero que não. Escrevemos e filmámos a série de forma a ter um fim narrativo com a terceira, o que não significa que, depois, não venham a existir mais temporadas. Mas, para nós, guionistas e realizador, a história do Eduardo [protagonista] e dos amigos acaba, de alguma forma, na terceira temporada. Dado o sucesso global da primeira temporada, houve pressão e imposições por parte da Netflix em relação às seguintes? Houve mais liberdade por parte da Netflix, enquanto canal, porque já havia uma base de confiança. Como conseguimos fazer uma primeira temporada que funcionou bem, deram-nos essa confiança. Senti mais liberdade criativa e tive mais recursos para fazer estas duas temporadas do que tive para fazer a primeira. Só a nível financeiro ou também a nível técnico? As duas coisas. Como era a segunda parte de uma coisa que já tinha sido feita, conseguimos melhorar muito, a vários níveis. Conseguimos melhorar no ‘craft’ e na relação entre a equipa. Mudámos algumas pessoas, porque achámos que era importante para o resultado final. Na segunda e na terceira temporada, houve todo um esforço e uma dedicação no sentido de fazer uma série melhor. Não houve perdas de energia noutras coisas. |

Augusto Fraga, realizador da Krypton, já filmou campanhas publicitárias em cerca de 50 países
“Grande parte das campanhas feitas pelos outros são melhores do que as minhas”
–––Dos anúncios publicitários que fez, qual é aquele de que mais se orgulha? Não consigo eleger só um. Orgulho-me de ser realizador há mais de 20 anos e de já ter filmado em mais de 50 países, orgulho-me de poder filmar e trabalhar para marcas, tanto na China como nos Estados Unidos, no México ou em Portugal. Orgulho-me de continuar a ter relações com produtoras, com criativos e com marcas em países e contextos completamente diferentes. É um orgulho ter sido escolhido por uma equipa criativa de Los Angeles para o anúncio da Mercedes-Benz que fiz agora, como foi quando trabalhei na Grécia, no Senegal ou na Tailândia. Ir para esses sítios, que têm uma cultura diferente da nossa, para ser desafiado a aportar a minha visão aos projetos é um orgulho. O que me faz mais feliz é isso. Há alguma campanha que gostaria de ter realizado? Quase todas. Acho que grande parte das campanhas feitas pelos outros são melhores do que as minhas. Porquê? Não sei. Acho que é uma espécie de síndrome do impostor. Fico muitas vezes a pensar em como é que conseguiram fazer uma determinada coisa e eu não, ou a interrogar-me se, no caso de ter sido convidado para dirigir uma determinada campanha, também a teria feito assim. Mas, nos últimos anos, deixei de ver campanhas de outros realizadores. O que, antes, era uma constante procura de influências e de referências, hoje em dia é uma coisa muito rara. São poucos os realizadores que realmente acompanho para saber o que andam a fazer. Ainda assim, acontece-me muitas vezes ver coisas que penso que estão a um nível altíssimo, que espero um dia alcançar. É síndrome do impostor ou resquícios daquela mentalidade que se tem vindo a perder que considera os estrangeiros melhores do que os portugueses? É uma mentalidade portuguesa que temos de manter. A ideia de humildade, de que o esforço não pode parar e de que não somos eleitos para um lugar para lá ficarmos. É uma das coisas boas de ser português. Alguns dos nossos representantes mais conhecidos lá fora usam estratégias de maior arrogância. Deve ser o contrário, que temos de ser muito humildes. Estando num ponto mais alto, devemos ser ainda mais humildes. |